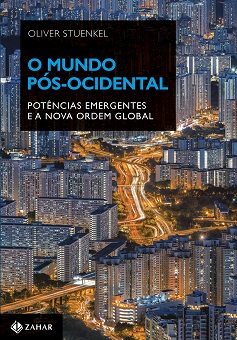O que a China quer? Organização: Dani Nedal, Matias Spektor (Editora FGV, 2012)
Resenhado para Política Externa.
A pergunta “o que a China quer?” – isto é, se ela vai se tornar uma “stakeholder responsável”, procurando integrar-se ao sistema atual e respeitando normas internacionais, ou se ela tentará subverter a ordem vigente e criar um modelo alternativo – é, possivelmente, a questão global mais importante do início do século XXI.
Autores do campo realista entendem o sistema de acordo com a distribuição de poder e prevêem que a China não atuará de acordo com as regras estabelecidas pelas potencias tradicionais. Eles, em geral, esperam que a China utilize o seu novo status para aspirar a visões alternativas da ordem mundial e desafiar o status quo, aliando-se a outras potências emergentes e forjando uma coalizão contra-hegemônica. A China poderia criar um sistema paralelo com seu próprio conjunto de regras, instituições e determinantes de poder, rejeitando princípios fundamentais do internacionalismo liberal, particularmente noções de sociedade civil global que justifiquem intervenções políticas ou militares.
Institucionalistas liberais, como John Ikenberry, por sua vez, argumentam que a China depara-se com um sistema centrado no Ocidente que, como ele enfatiza no livro, é “aberto, integrado e regrado, com uma base política ampla e sólida”. A ordem ocidental, afirma, “é de difícil subversão e fácil adesão”, e que é de se esperar a integração chinesa às estruturas atuais.
Tal questão importa uma vez que mudanças fundamentais na distribuição de poder foram, historicamente, propensas a causar tensões ou mesmo guerras, como sugerem Robert Gilpin e Paul Kennedy. A ascensão da Alemanha e suas demandas crescentes no fim do século XIX, que acabaram por conduzir à Primeira Guerra Mundial, é um exemplo notável. Portanto, muitos analistas hoje entendem a ascensão da China como o teste definitivo da capacidade das instituições internacionais de conter as leis do realismo.
O estudo da China vem se tornando bastante popular nos últimos anos, embora muitas das análises sejam superficiais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ameaça chinesa é freqüentemente exagerada para a consecução de fins políticos domésticos. No Brasil, o número de observadores competentes da China também é baixo, o que é particularmente preocupante tendo em vista a dependência crescente pela demanda chinesa de matérias-primas. Durante a visita da presidente Dilma Roussef à China, o debate parecia oscilar entre os críticos contumazes e aqueles com uma visão romântica do gigante asiático.
É nesse contexto que O que a China quer? é uma bem-vinda contribuição ao debate, na medida em que reúne análises de quatro dos mais renomados estudiosos do assunto.
No primeiro artigo, Rosemary Foot debate o conceito de “stakeholder responsável” no contexto da política externa chinesa desde o fim da Segunda Guerra, notando que embora a China, inicialmente, tenha adotado uma oposição ativa ao sistema internacional, isto começa a mudar nas décadas de 70 e 80, quando ela, vagarosamente, busca uma integração às estruturas internacionais, procurando ser um ator responsável. Contudo, na década de 90, um novo contexto fez com que o mero apoio às instituições internacionais não fosse mais suficiente: a partir de então, respeito a direitos humanos, liberdades civis e democracia cada vez mais definiam se um país seria considerado um ator responsável ou não. Foot demonstra muito bem como, apesar dessa mudança, a China insiste em querer ser vista como um ator responsável, e como tal desejo colide com sua tradicional e robusta noção de soberania do país.
No segundo artigo, Shaun Breslin esclarece como a ascensão chinesa afeta a política regional no Sudeste Asiático. Ele observa corretamente que nosso entendimento da situação, na maior parte das vezes, é feito a partir de uma perspectiva norte-americana, preocupada com os interesses dos Estados Unidos na Ásia. Olhando para trás, fica evidente como a política externa chinesa foi adotando uma percepção cada vez mais pragmática: ao invés de considerar os países da região como invariavelmente ligados aos EUA e anti-China, Pequim percebeu que seus vizinhos precisavam se beneficiar também do crescimento chinês a fim de criar uma vizinhança pacífica e coerente com os interesses chineses – de tal forma reconhecendo que até mesmo a China é profundamente afetada pelo que acontece fora de suas fronteiras, e que nenhum país consegue prosperar globalmente sem se entender com seus vizinhos. De modo similar à análise de Foot, Breslin aponta o desejo chinês de ser visto como um ator responsável no sistema, consciente do fato de que seu rápido crescimento causa receio nos outros. Ao mesmo tempo, o sucesso econômico chinês e as expectativas futuras de crescimento também contribuem para um ganho em soft power na região, fato acentuado pelas dificuldades americanas somadas ao gradual declínio do Consenso de Washington – embora Breslin nota que o poder de atração dos Estados Unidos no sudeste asiático é um elemento a ser reconhecido ainda por muitos anos.
O terceiro artigo, que vem provocando um debate considerável desde sua publicação na Foreign Affairs em 2008, G. John Ikenberry defende as instituições de hoje, argumentando que nenhuma potência emergente conseguiria opor-se seriamente ao sistema, pois os benefícios da integração são simplesmente grandes demais para serem ignorados. Ao invés de retratar a ascensão chinesa como uma competição com os Estados Unidos (na qual os EUA perderiam), o Ocidente deve, portanto, assegurar-se de que a atratividade do sistema internacional deve ser mantida e aumentada, e que mediante um gerenciamento cuidadoso, o sistema deverá se manter a despeito do crescimento chinês. As instituições devem ser fortalecidas, os “retornos ao poder” reduzidos, forçando, de tal maneira, a China a aderir às regras quando estiver na posição mais privilegiada. Descrevendo o “triunfo da ordem liberal”, Ikenberry argumenta que o sistema contemporâneo é único na história, já que ele não é baseado na coerção, mas no consenso. Diferentemente, de “estruturas imperiais”, a ordem atual é “liberal”, definida pela abertura, legitimidade e durabilidade. Ele também mostra que os Estados Unidos estabeleceram o sistema com vistas a integrar o maior número de nações possível, e aceitando certo de grau de restrição a seu poder para aumentar a aceitabilidade e a longevidade do sistema. O fato de que a ordem de hoje permite que atores como a China cresçam “dentro do sistema” – conquistando mais direitos de voto no FMI e no Banco Mundial, por exemplo – prova este fato. Tais fatores sistêmicos, assim como a presença de armas nucleares e da globalização econômica impulsionada pela tecnologia, fazem de um enfrentamento bélico entre a China e os Estados Unidos muito improvável. Ao mesmo tempo, Ikenberry alerta que para manter o sistema vivo, o seu fiador – os Estados Unidos – devem novamente assumir o papel de seu grande apoiador.
No quarto e último artigo, Jeffrey W. Legro demonstra como a China adotou uma estratégia isolacionista na primeira metade do século XIX antes de buscar uma integração nas instituições internacionais do início do século XX. Sob a liderança de Mao, voltou-se a um regime revisionista para lentamente retomar uma postura integracionista sob Deng Xiaoping. Legro salienta que, hoje em dia, a China discorda de alguns detalhes do sistema internacional, ainda que o autor ainda categorize a China como uma potência que concorda com o status quo e com os pilares básicos que sustentam as relações internacionais. É possível, contudo, que isto mude: o “Consenso de Pequim”, que implica em intervencionismo econômico e forte ênfase na soberania, pode se configurar como um símbolo de resistência contra a sociedade internacional. Ademais, surge a questão de até que ponto um país não democrático consegue adotar uma estratégia integracionista no longo prazo. Legro acrescenta que as lideranças chinesas somente adotariam uma estratégia desse tipo enquanto ela fosse capaz de produzir resultados; mas ela poderia mudar caso o crescimento econômico enfraqueça, ou se as consequências negativas da liberalização econômica, como um aumento da desigualdade social, superem as consequências positivas.
Resumindo, esses quatro pontos de vista oferecem um excelente panorama do estado em que se encontram os estudos sobre o assunto, e são uma porta de entrada ideal para qualquer um que deseje obter uma melhor compreensão da ascensão chinesa, fenômeno que Ikenberry corretamente chama de “um dos grandes dramas do século XXI”.
Leia também:
Book review: “The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers” by Richard McGregor