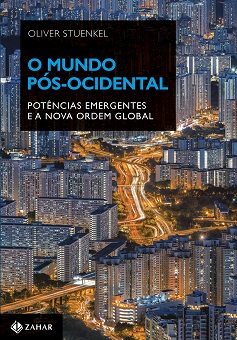Resenha: “A Arte da Manutenção do Poder: Como Estados Ocidentais Mantêm a Liderança em Instituições Globais”, por Robert Wade (Challenge, vol, 56, n.1, Janeiro/Fevereiro de 2013, pgs, 5-39)
O Ocidente está em declínio, e o mundo está se tornando mais multipolar. Como consequência, potências emergentes como a China, o Brasil e a Índia estão buscando maior poder em instituições internacionais. Questões referentes às maneiras como as instituições existentes podem adaptar-se a novas realidades, e às necessidades de novas estruturas em resposta a mudanças recentes, estão entre os quebra-cabeças mais definidores de nossos tempos.
Robert Wade, professor de economia na London School of Economics (LSE), escreveu um artigo bem pensado no qual afirma que o Ocidente permanece bem mais dominante nas instituições existentes do que se costuma pensar, e que há pouca razão de se acreditar que o Sul irá mudar isso no futuro próximo. “A narrativa comum afirmando que a China e alguns outros países em desenvolvimento ascenderão para desafiar os Estados Unidos e outros importantes países ocidentais acabou se revelando um exagero”, ele escreve.
De modo ainda mais provocador, ele afirma que “os Estados Unidos e outros países ocidentais continuam a estabelecer a maior parte da agenda de governança global econômica e financeira, enquanto os grandes países em desenvolvimento têm exercido uma liderança insignificante, até agora”. A liderança do Sul permanece, portanto, limitada. O ensaio de Wade descreve uma série de estudos de caso de política global que mostra como os Estados ocidentais têm conseguido manter sua posição de liderança global, mesmo depois de 2008 e do começo da longa queda em economias ocidentais. Os resultados são, de fato, fascinantes.
O primeiro estudo de caso mostra como, em 2009, os Estados ocidentais, liderados pelo Reino Unidos e pelos Estados Unidos, marginalizaram a Assembleia Geral das Nações Unidos do papel de debater a crise financeira global e os seus impactos, de maneira a deixar o assunto para as organizações interestatais dominadas pelo Ocidente que, é claro, tomaram os devidos cuidados de evitar a proposição de medidas que pudessem ser nocivas aos interesses ocidentais. Wade mostra como Susan Rice superou as manobras daqueles que buscavam dar à Assembleia Geral (o ‘G-192’) um papel maior. Por exemplo, o Secretário-Geral Ban Ki Moon negou qualquer tipo de ajuda financeira à Comissão Stiglitz, que fora encarregada pela Assembleia Geral de fornecer um relatório independente. Apesar da competência da Comissão, os Estados Unidos arguiram que “estavam convictos de que as Nações Unidas não tinham nem a capacidade nem o mandato para servir como um fórum adequado ou para fornecer uma orientação”. O Reino Unido instruiu seus embaixadores a forçaram membros da Comissão a se demitirem. Como queria o Ocidente, o G-20 cuidou dos preliminares, e o FMI reassumiu o papel do único fórum legítimo para questões e negociações mais difíceis.
O segundo estudo de casa mostra como, em 2012, o Ocidente quase conseguiu impedir a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) – dominada por países em desenvolvimento – de continuar a analisar a crise financeira global. Conforme declarou um delegado sênior americano em uma das últimas sessões de negociação em Doha, “Não queremos que a UNCTAD imponha competição intelectual ao FMI e ao Banco Mundial”. De fato, o Ocidente disse: “Não queremos que a UNCTAD discuta nenhuma dessas questões, porque a UNCTAD não tem a competência para fazê-lo. São questões para o G-20 e o FMI”.
O terceiro estudo de caso mostra como estados ocidentais conseguiram criar uma “reforma de voz” no Banco Mundial entre 2008 e 2010, que parecia aumentar significativamente a participação de votos para os países em desenvolvimento, mas que, na realidade, não o fazia. Incluindo apenas os países de baixa e média renda, que são os membros do Banco a fazer empréstimos, a proporção de votos dos países em desenvolvimento aumentou de 34,67 por cento para apenas 38,38 por cento, enquanto os países desenvolvidos (de alta renda) retinham mais de 60 por cento. O Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França e o Canadá chegaram mesmo a aumentar sua participação no total de votos por um total combinado de 4,1 pontos percentuais depois de 2010.
O quarto estudo de caso mostra como, em 2012, os Estados Unidos mantiveram a presidência do Banco Mundial, apesar de anos de protestos de estados membros em prol da abertura das lideranças de organizações internacionais como o Banco e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para todas as nacionalidades. Mas como já apontei, as indicações de Kim e de Lagarde também simbolizaram o fracasso de países emergente em unir-se em prol de um candidato alternativo. Isso ficou particularmente claro quando os BRICS não conseguiram concordar em pedir, juntos e abertamente, aos Estados Unidos e à Europa que apoiassem Ngozi Okonjo-Iweala, a candidata nigeriana para liderar o Banco Mundial. Como bem constata Wade, “a história mostra igualmente como a desconfiança mútua entre os países em desenvolvimento torna fácil para os Estados Unidos e para os americanos dividi-los com acordos bilaterais”.
Este artigo faz com que o leitor se pergunte se o Ocidente tem logrado transformar as potências emergentes atuais em ‘idiotas úteis’, que de tão orgulhosos que estão de fazer parte do G-20, já não defendem os interesses dos países em desenvolvimento. Visto dessa maneira, a ascensão dos BRICS pode ter sido um desdobramento positivo para o Ocidente, agora que os pobres perderam poderosos defensores em Brasília e em Déli, que cada vez mais defendem os interesses de grandes potências. Ao mesmo tempo, as potências emergentes não deveriam reclamar: é natural que o Ocidente faça todo o possível para manter o seu poder. Afinal de contas, a China ainda não está inteiramente comprometida a incluir o Brasil e a Índia permanentemente no Conselho de Segurança da ONU.
Wade afirma corretamente que os estados ocidentais têm obtido importantes êxitos em seus esforços para manter o controle do alto de suas posições de comando. Seu sucesso se deve em grande parte a regras institucionais que colocaram em prática há décadas, muito antes que se falasse na ascensão do Sul. Mesmo assim, parte da culpa permanece com o Sul, que não foi capaz de se unir e apresentar ideias mais poderosas quanto à necessidade de reformas.
Leia também:
BRICS e a África – uma parceria para a integração e a industrialização?
Os BRICs e o segundo mandato de Obama
De quantos diplomatas uma potência emergente precisa?
Photo credit: Pete Souza-White House