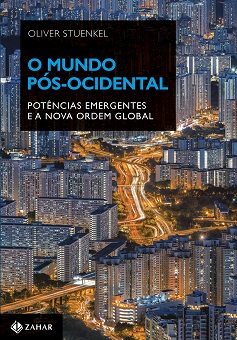Por Lara Rizério | 15h26 | 24-02-2014
SÃO PAULO – Muito se fala sobre a diminuição da influência da maior economia mundial, os Estados Unidos, sobre os países menos desenvolvidos. Porém, essa tendência, que ainda parece estar em fase de consolidação – uma vez que o gigante ainda exerce um grande papel sobre a geopolítica mundial -, já se transformou em realidade para muitas nações, que possuem uma nova referência.
E esta referência é a China, que caminha cada vez mais para se tornar cada vez mais influente no quadro político-econômico global, o que aponta para um movimento de transição da influência de Washington para Pequim, a capital chinesa. É o que destaca Oliver Stuenkel, professor adjunto de Relações Internacionais da FGV (Fundação Getulio Vargas).
Oliver Stuenkel é graduado pela Universidade de Valência, na Espanha, fez seu Mestrado em Políticas Públicas na Kennedy School of Government de Harvard, e Doutorado em Ciência Política na Alemanha. Em entrevista para o podcast da Rio Bravo Investimentos, Stuenkel detalha a crescente influência dos chineses na África, onde muitos líderes já enxergam o gigante asiático como modelo econômico. O professor destacou ainda a influência da internet que, ao invés de fazer o regime chinês mudar, foi “domada por ele”.
O economista ainda destacou os temores com a questão Síria e os paralelos já traçados por alguns entre o ano de 2014 e 1914, quando teve início a Primeira Guerra Mundial. Confira a entrevista completa:
Rio Bravo – Muito se tem falado de paralelos que existem entre 1914, o ano em que começou a Primeira Guerra, e 2014. Que paralelos são esses, exatamente?
Oliver Stuenkel – Na verdade são muitos. Primeiro é que em 1914 a gente tinha uma potência importante que era o Reino Unido, que concentrava o poder econômico e militar da época e que tinha desenhado e controlava as regras da ordem da época. Ao mesmo tempo, tinha uma potência emergente, a Alemanha, que não estava satisfeita com a Ordem Internacional, não aceitava a Inglaterra nessa posição central, e que crescia mais rapidamente do que Reino Unido e, em termos militares, investia muito na sua capacidade, que aos poucos ameaçava a liderança britânica. Historicamente, transições de poder têm altíssimo risco de conflito, porque o sistema internacional geralmente é controlado pela potência mais forte. Então, essa potência dita as regras e normas e a nova potência geralmente tem o interesse de mudar essas regras e se impor também, e isso pode levar, como muitas vezes levou, historicamente, a um conflito.
De fato, existem evidências históricas de que os Estados Unidos quando superaram a Inglaterra como principal potência, tinham planos de acelerar essa transição de poder por meios militares, invadido, por exemplo, o Canadá, ou seja, atacando alguns outros países, enfraquecendo a Inglaterra, caso a Inglaterra não aceitasse o novo líder dos Estados Unidos. Mas, de fato, a Inglaterra aceitou essa liderança. Agora a gente está em uma situação parecida, porque a ordem ainda é controlado pelos Estados Unidos, que dita as regras e normas claramente, todos os conceitos, ideias que nós temos sobre a Ordem Internacional foram feitas, criadas e sustentada pelos Estados Unidos. De fato, há uma ordem americana na qual vivemos que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial.
Só que a China aos poucos está crescendo tanto e não está plenamente satisfeita com essas regras, quer atuar de maneira mais independente e, pela primeira vez agora em 100 anos, a gente vai ter de novo uma transição de poder, porque a China superará a economia americana e ninguém sabe em que medida a China continua aceitando essa regras dos Estados Unidos, que já não ocupam esse lugar importante. Isso é um grande dilema, porque por um lado a China tem muitos benefícios da ordem atual, livre comércio, proteção militar dos Estados Unidos, que assegura a segurança das vias marítimas, por exemplo, e ao mesmo tempo a China não está afim de permanecer dentro de uma ordem controlado pelos Estados Unidos.
RB – Mas em relação a comparação específica do ano, 1914 e 2014, há eventos que já aconteceram essa ano que mostram algum paralelismo?
OS – Não, na verdade, é mais estrutural mesmo que a gente tem essa paralela da potência emergente e da hegemônica que está em declínio. Claramente, a Inglaterra estava em declínio e os Estados Unidos hoje não crescem mais tão rapidamente, mas a gente tem uma série de outras paralelas. Uma, por exemplo, é a importância do nacionalismo, que quando a gente olha a história da Europa daquele ano, a gente vê que o nacionalismo levou os líderes a tomar decisões muito erradas ao se calcular e isso dificultou o processo de frear esse processo que parecia quase inevitável, todos os países entrando no conflito. Então, isso a gente também vê na China, onde o nacionalismo é utilizado como uma arma para se impor na região.
RB – Vamos falar da China. A ascensão da China e suas aspirações regionais vão gerar muita volatilidade?
OS – A gente tem que lembrar de uma coisa: a partir de agora a China representa o principal polo econômico na economia mundial. Então, qualquer instabilidade política na região da China pode, gravemente, afetar a economia global. A China estabeleceu uma chamada zona de identificação de defesa aérea e aumentou essa zona. Agora essa zona inclui uma série de ilhas que pertencem oficialmente ao Japão. A China também disse que essas ilhas na verdade fazem parte da China. Então, existe lá um potencial conflito e quando a China anunciou essa zona os Estados Unidos entraram com aviões nessa zona para mostrar que de fato isso é um ato ilegal, mesmo assim, em uma situação de tensão, isso pode ser visto como uma agressão militar americana contra a China. Então, mesma essa possibilidade aumenta o risco político, aumenta o risco para investidores, então o fato da gente ter um deslocamento de um centro econômico mundial de uma zona pacífica dos Estados Unidos e Europa para uma região de um possível conflito, sim aumenta claramente a volatilidade.
RB – Vamos falar dessas ilhas. Colocando na balança todo o comércio que China tem com os EUA, toda a relação de capitalismo que existe os dois países, e, colocando de outro lado essas ilhas, que podem, e tem um sentido simbólico para a China, a primeira coisa não pesa mais que a segunda?
OS – Foi exatamente isso que todo mundo pensava há 100 anos. Existe um livro que se chama ” A Grande Ilusão da Época”, que mostrava um pouco que a elite global pensava que um conflito entre a Inglaterra e a Alemanha era impensável, porque eram os dois países mais integrados comercialmente. Ou seja, o comércio, as elites econômicas dependiam um do outro. Os filhos da liderança política alemã estudavam em universidades britânicas, ou seja, havia uma conexão cultural muito forte. Da mesma maneira também existe um comércio muito forte entre a China e os Estados Unidos, entra a China e o Japão, mas a história nesse sentido nos ensina que o comércio não é garantia que possa assim assegurar que não aja um conflito. É justamente nisso onde o nacionalismo entra. Um conflito em uma guerra pode ser, sobretudo em um país autocrático como a China, utilizado como um pretexto para desviar a atenção pública, que está focada, por exemplo, em corrupção, em problemas ambientais, em crescimento baixo.
Então, existe uma possibilidade em um cenário real de que a China, em algum momento, para fortalecer o nacionalismo, unir o povo e reduzir a crítica ao governo, de fato, lançar um pequeno conflito, que depois pode virar algo muito maior. É inacreditável quantas vezes eu conversei com pessoas intelectuais da China, com pessoas com ótima formação e etc. que falavam que, de fato, é inaceitável para a China ceder essas ilhas ao Japão e também lembrando que o fato de ceder essas ilhas para o Japão pode causar outras rebeliões, em outras regiões da China como o Tibete, como Xingjian, que de fato pode pôr em perigo todo a grande narrativa da união territorial da China.
RB – A China está no meio de uma desaceleração do crescimento. Como é que o crescimento econômico na China se relaciona com a estabilidade do regime lá?
OS – O governo chinês, o partido comunista, concentra todo o poder político e o cidadão chinês, neste momento, não tem nenhum direito político porque o consenso é que o sistema político autocrático atual é a melhor maneira de assegurar um alto crescimento econômico. Isso quer dizer que um cidadão chinês aceita a legitimidade do partido comunista só se, de fato, esse partido consegue entregar esse autocrescimeto que tem tirado milhões e milhões de pessoas da pobreza. Ou seja, a gente viu o maior programa de redução de pobreza na história da China, com mais de 110 milhões de pessoas entrando na classe média.
RB – Não nos dão liberdade, mas nos alimentam.
OS – Exatamente! E nos alimentam muito bem, ou seja, realmente houve uma transformação inédita da sociedade chinesa ao longo das últimas décadas. Agora, se o crescimento chinês ficar mais baixo, a gente está falando mais ou menos de uns cinco ou seis por cento eu acredito que haverá muito mais protesto, muito mais vontade do povo de desafiar essa legitimidade porque acredita que o partido não consegue mais assegurar o autocrescimento. Isso claramente pode levar a instabilidade política e a China tem esse histórico, de muitos protestos e isso afetará claramente ao desempenho econômico do país.
RB – É possível para o regime, sabendo dessas tensões, fazer a engenharia de um crescimento maior, mesmo que com mais inflação?
OS – Existem vários projetos e tentativas do governo mostrar que controla a situação. Eu acho que não, em relação a sua pergunta em relação à inflação, eu acho que a moeda chinesa é vista também como um símbolo de poder e cada vez mais a China tentará institucionalizar o yuan como moeda global.
A gente vê que agora, em alguns países africanos, a moeda chinesa já é a moeda oficial. A gente viu no Zimbábue, por exemplo, que adotou na semana passada o yuan como uma das moedas oficiais, então a China tentará aos poucos convencer outros países a adotar a moeda de câmbio. Então, eu acho que não. Acho que o partido tentará, por meio de reformas, manter alta a competitividade da economia chinesa e também de fortalecer o consumo interno, porque a China já não é aquela potência das últimas décadas que só consegue crescer exportando.
RB – Fale um pouco sobre a influência da China na África. A gente ouve falar aqui e ali, mas você pode dar um quadro mais consolidado?
OS – A África tem sido um continente um pouco esquecido pelas grandes potências nos anos 90. Os Estado Unidos, por exemplo, enxergavam a África não como uma oportunidade, mas como um país que precisava de ajuda. Então, toda a maneira como a Europa e os Estados Unidos enxergavam a África era para o meio desse filtro de que é uma região pobre que precisa de ajuda. Isso é, claramente, percebido pelos líderes africanos e a China percebeu isso. Enxergou que a África, hoje em dia, é a última fronteira na economia global e, de fato, na última década é o continente que mais cresceu. Alguns países crescem a taxas anuais de mais de 10%, como a Angola, por exemplo. E a China começou a investir no continente de maneira sistemática, tanto que hoje a maioria dos países africanos têm a China como principal parceiro comercial.
RB – Mas o viés principal desse investimento é busca de garantia de fornecimento de matéria prima?
OS – Principalmente sim, mas a gente deve lembrar que a Europa e os Estados Unidos também utilizavam a África assim. Em alguns países, até os investimentos chineses são mais diversificados. Na Nigéria, por exemplo, onde a Europa tem uma longa história de investir em petróleo e recursos naturais, a China hoje em dia controla setores como o de telecomunicação. Então, isso mostra que a imagem que a gente tem da China na África nem sempre é correta. Nem sempre a China apenas entra na África para roubar os recursos naturais mas, de fato, a China, cada vez mais, tenta mostrar aos cidadãos africanos de que sua influência é positiva, porque em vários países a gente viu protestos contra a China, e como a China se interessa pelo desenvolvimento, pela parceira a longo prazo entende, claramente, que uma presença sem aprovação pública é insustentável.
Agora, uma coisa muito interessante é que cada vez mais líderes africanos enxergam a China como modelo econômico e social e não mais os Estados Unidos. Então, na África, pela primeira vez, a gente vê sociedades inteiras começam a se reorientar e já não olham os Estados Unidos como uma sociedade modelo. Qualquer país em desenvolvimento queria, no fundo, ficar mais parecido com os Estados Unidos, mais parecidos com países europeus, e agora a gente tem vários presidentes que dizem claramente: “Nosso modelo é a China porque a China cresce mais rapidamente, consegue implementar projetos de infraestrutura com muito mais rapidez.” Então, a gente vê lá não só uma mudança econômica, mas também uma mudança na liderança sociocultural também.
RB – Que países tem dito isso mais abertamente?
OS – Ruanda, por exemplo, é um país que se desenvolveu rapidamente nos últimos anos, que não é um país democrático, quer dizer, que não tem uma democracia muito vibrante, porque tem um presidente com tendências autocráticas. Mas é claro que olhando, por exemplo, um país como a China e comparando isso com um país como a Índia, todos os observadores enxergam que a China consegue, de fato, implementar, por exemplo, projetos de infraestrutura com muito mais facilidade do que a Índia, por exemplo, porque, como país democrático, precisa consultar representantes dos moradores, é possível entrar na justiça contra o Estado, o que atrasa o projeto. A gente vê o mesmo aqui no Brasil, não é? Então, isso é uma preocupação muito importante, porque isso tem também implicações importantes para o futuro da democracia. A gente, pela primeira vez, vai ter uma país como principal economia do mundo que não é uma democracia. Isso pode fazer com que líderes de países africanos, e também líderes em outras regiões do mundo, considerarem que o modelo chinês é algo mais desejável do que o modelo americano.
RB – Você mencionou Ruanda. Qual é a lista dos países na África, hoje, onde a China exerce maior influência?
OS – A África já tem um grupo muito grande de países onde a China é o principal ator. A gente tem como grande exemplo o Sudão, que é um dos principais fornecedores de petróleo. A China teve uma grande papel em proteger o líder, o presidente do Sudão, Al-Bashir, durante o genocídio que aconteceu no Sudão.
A China, protegendo esse líder que a comunidade internacional tentou isolar, o país sofreu sanções internacionais, mas conseguiu se manter por causa da ajuda chinesa. Isso é um exemplo. Outro exemplo: África do Sul e, como consequência, alguns anos atrás, o Dalai Lama tentou visitar a África do Sul para participar de uma conferência de paz, para encontrar com seu grande amigo Nelson Mandela, e o governo sul-africano não deu visto para o Dalai Lama por pressão chinesa. Então, esses são pequenos exemplos que a gente já vê uma…
RB – Pequenos grandes exemplos.
OS – Pequenos grandes exemplos, mas são coisas do dia a dia na qual, por exemplo, quase nenhum país africano, hoje em dia, reconhece Taiwan, porque isso também pode… Nenhum líder pode receber o Dalai Lama porque ele representa uma ameaça. Então, são muitos países. Eu diria que, a longo prazo, todos os países africanos terão uma relação política e econômica mais importante com a China do que com os Estados Unidos.
RB – Vamos falar sobre a internet e a China. Como é que a internet tem mudado a política interna na China, se é que tem?
OS – Interessante é notar que dez anos atrás, quando a internet começou a chegar nos países em desenvolvimento, e começou de fato criar uma comunidade global que deixava as pessoas de países diferentes se comunicarem e etc., havia uma crença de que a internet poderia ser utilizada como ferramenta para expandir a zona da paz, para promover a liberdade, a democracia, a liberdade de expressão, a imprensa livre e o debate livre, porque a internet não respeita fronteiras, achava-se até essa época. Não se precisa mais de um visto, por exemplo, para conversar com pessoas de outros países pela internet. Então, como consequência, a internet também foi vista como uma possibilidade de democratizar a China, de informar a sociedade chinesa sobre a situação no mundo, de realmente enfraquecer a capacidade que o Estado chinês tinha de isolar os próprios cidadãos.
O que a gente vê agora é que a China, de fato, conseguiu controlar a internet. A internet não conseguiu controlar a China, porque a China emprega mais de 100 mil pessoas que passam o dia inteiro “surfando” na Internet, olhando sites, bloqueando sites, atualizando… Mais de 100 mil pessoas sendo empregadas pelo governo chinês apenas na questão de apagar sites da internet dentro da China. Ou seja, que passam o dia inteiro checando informações que estão sendo publicadas.
RB – O seu blog sobre política externa, um chinês consegue ler?
OS – Não consegue ler. Conseguia ler até eu resenhar um livro sobre a história do partido comunista que é proibido na China.
RB – É proibido fazer resenhas sobre o partido?
OS – O livro é proibido porque contém partes críticas. Não é um partido democrático. Fala de brigas dentro do partido, e a imagem que o partido comunista quer dar ao cidadão é que só existe uma opinião, não existe briga interna no partido, que é tudo um processo harmônico e democrático. No mesmo dia em que eu publiquei a resenha, de fato, o site saiu do ar. Isso é algo natural. Isso é interessante como a China conseguiu se manter. A gente tinha essa expectativa de que com a globalização tecnológica a China ia se democratizar e se adaptar a essa nova realidade, mas, de fato, não foi o que aconteceu.
RB – Na questão síria, há a Rússia, que impede que os EUA obtenham um consenso na comunidade internacional para uma ação mais decisiva contra o regime Assad. A minha pergunta é: o Presidente Putin representa hoje um problema para a paz e para a governança global?
OS – Por um lado, claramente, a posição russa não tem sido muito construtiva na questão de como solucionar o conflito na Síria. Ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado, porque o plano americano de intervir na Síria, fortalecer os rebeldes e de derrubar o governo Assad implica em um risco muito grande porque, de fato, os Estados Unidos invadiram o Iraque, também um país muito fraturado, pulverizado e com muitos grupos que não conseguem estabelecer um consenso nacional sem um ditador.
Então eu acho que existia naquela época, nos dias antes da intervenção, uma pergunta muito importante que os Estados Unidos nunca conseguiu responder de maneira satisfatória: o que havia depois? Os Estados Unidos intervêm, satisfazem, talvez, uma demanda internacional e depois o que vai acontecer? A gente vê agora, por exemplo, 10 anos depois da intervenção americana no Iraque, que o país não é um país democrático, não é um país pacífico e iraquianos morrem todos os dias em ataques terroristas. Então, não se sabe, claramente, se, de fato, a intervenção russa teve um impacto negativo ou positivo.
RB – Mas isso aí parece que leva um corolário, que seria o seguinte: se a comunidade internacional não sabe o que colocar no lugar, é melhor deixar o ditador de plantão lá.
OS – Bom, não temos uma boa solução, não é? A saída do ditador Assad é desejável simplesmente porque ele é o principal responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas. Ao mesmo tempo, existe também a possibilidade de que a gente precise reconhecer que, caso o Assad saia do poder, a Síria pode virar um país muito mais radical, governado por radicais que tem como visão estabelecer um governo parecido com aquele que governou o Afeganistão na época do Talibã, que também não é desejável.
Então, realmente, e infelizmente, agora a gente não tem uma possibilidade, ou uma saída perfeita. A minha expectativa é que o Assad seguirá no poder, que ele será crucial, por incrível que pareça, no processo de paz e que isso fortalecerá muito a posição estratégica do Irã e Rússia na região que conseguiram apoiar e manter um dos principais aliados na região, apesar de que um ou dois atrás tudo indicava que ele tinha que sair do poder e tinha seus dias contados.
RB – E, com certeza, os republicanos vão estar falando disso daqui a dois anos em uma campanha eleitoral, dizendo que o Obama fracassou.
OS – Exatamente.
RB – O novo presidente do Irã [Hassan Rohani] tem tido toda uma retórica de paz e amor. As grandes potências estão comprando essa retórica? E você, acredita?
OS – É interessante que o presidente iraniano utilizou o encontro em Davos como plataforma para apresentar a nova narrativa de que o Irã gostaria de se integrar na comunidade internacional como um ator responsável, que procura a paz, a resolução pacífica das tensões e conflitos, etc. Isso é um passo importante, mas ele é só um primeiro passo. Ao mesmo tempo, eu acredito que existe uma pressão pública no Irã. Faz um tempo que passei algumas semanas no país em 2007, mas, já naquela época, sentia também um cansaço entre a população iraniana que sofre muito com as sanções econômicas. Então, eu acho que existe uma vontade política real no governo iraniano de se reintegrar na comunidade internacional. Agora, ao mesmo tempo, é difícil prever em que medida os Estados Unidos aceitarão essa reintegração e se eles aceitarão que o Irá manterá capacidade, pelo menos, de desenvolver a tecnologia nuclear, não é?
A grande estratégia americana ao longo das últimas décadas tem sido de evitar, sempre, ascensão de uma potência hegemônica regional. O Irã tem um chance real de virar essa potência hegemônica regional se ele se reintegrar na economia global. É o principal país da região que pode exercer muita influência no oriente médio, o que é um problema para o principal aliado dos Estado Unidos, que é a Arábia Saudita. Então, não só é uma questão, vamos dizer, da atividade nuclear do Irã, mas também uma questão de se os Estados Unidos consegue se adaptar a essa nova realidade de uma Irã integrado.
RB – É possível que a tensão que havia sob o presidente anterior [Mahmoud] Ahmadinejad fosse apenas uma questão de estilo, porque ele era um populista, que ele era um boquirroto e isso exacerbou tensões que, na verdade, os aiatolás são menos extremistas do que ele?
OS – Sim, teve um papel muito importante, sobretudo porque piorou muito a relação entre Irã e Israel, que é um principal aliado americano também, e que exerce uma grande influência sobre a atuação americana no Oriente Médio. Então, sim, o estilo é importante. Acho que não é só o estilo, o governo iraniano terá que fazer concessões reais agora. Não é só uma mudança de estilo. Precisa fazer concessões comprováveis, tangíveis e reais para convencer, não só os Estados Unidos, mas também a comunidade internacional de que o país, de novo, deveria fazer parte da comunidade internacional.
Leia também:
O Brasil está abandonando suas ambições globais?
10 previsões para a Política Internacional em 2014
Foto: Washington Times