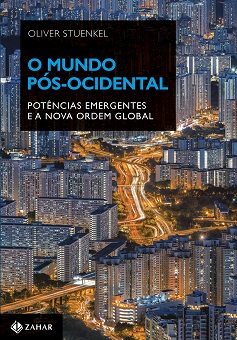No mês passado, The Carnegie Endowment for International Peace enviou perguntas intrigantes aos seus principais especialistas em relações internacionais: “Cada dia parece trazer novos sinais de instabilidade global. Será que o nível de turbulência é realmente inédito na história recente? Ou é apenas uma falsa impressão?” (As respostas podem ser lidas aqui, na seção “Is the World Falling Apart?”).
Vai demorar anos até que a atual situação global possa ser interpretada corretamente. Na sua resposta à pergunta acima, Thomas Carothers, de Carnegie, argumenta que “inúmeros conflitos atuais (Israel-Palestina, Líbia, Iraque, Síria, Afeganistão, Paquistão, Ucrânia, Sudão do Sul, República Centro- Africana, etc.) são uma manifestação da difusão e descentralização do poder que está saindo das mãos dos EUA para os países emergentes. Este processo multiplicará as fontes de conflitos violentos no mundo.”
Esse argumento é popular (principalmente nos EUA), mas não está claro se qualquer um dos conflitos atuais seria menos grave em um sistema de unipolaridade incontestável. Por exemplo, Amitav Acharya acusa liberais de assumir cegamente uma equação entre a preponderância estadunidense e a estabilidade mundial. Afinal, a comunidade internacional testemunhou conflitos complexos nos anos 90 (Ruanda, Jugoslávia, Somália, Serra Leoa, Afeganistão, Cáucaso, Republica Democrática do Congo, etc.), mesmo com a liderança global dos EUA. Parece claro que guerras sistêmicas são menos prováveis em um sistema unipolar do que em uma estrutura multipolar. Porém, a questão da polaridade parece ter pouca influência nos conflitos de segunda ordem como aqueles que acontecem atualmente. Não há consenso em relação às consequências do declínio dos EUA para a estabilidade global ou a probabilidade de conflitos armados.
O segundo argumento de Carothers é menos controverso, mas talvez ainda mais importante. Para ele, a situação atual traz de volta à realidade aqueles que começaram a acreditar que confrontos militares já não faziam parte do dia-a-dia das relações internacionais. Apesar de Amitav Acharya argumentar que a multipolarização pode gerar mais cooperação, não há nenhuma teoria fundamentada que deduz a redução do número de conflitos com o fim da unipolaridade. Em seu livro mais recente, Steven Pinker pode estar certo que, visto de uma perspectiva de longo prazo, o mundo está se tornando mais pacífico, mas isso não nos ajuda a prever a quantidade de conflitos nos próximos anos.
Essa discussão tem implicações importantes para os países emergentes que buscam construir um sistema internacional mais igualitário e fortalecer sua presença nos debates sobre os grandes desafios globais. Tais desafios estarão relacionados às questões de segurança e a capacidade de um Estado assumir liderança internacional dependerá de seu compromisso em oferecer soluções inovadoras neste campo. Dito de outra forma, um Estado que evita questões complexas de segurança não conseguirá convencer outros que ele merece uma posição de destaque nas instituições globais, tal como um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
Isto não significa que potências emergentes como a Índia e o Brasil devem começar a intervir militarmente em todas as partes do mundo para reforçar suas reivindicações pela liderança. Ao contrário, o compromisso com questões de segurança internacional pode tomar formas mais construtivas – desde a participação nas conferências de segurança de alto nível (tal como a Conferência Anual de Segurança em Munique, onde o Brasil esteve ausente em fevereiro de 2014), patrocinar resoluções relevantes da ONU, assumir a liderança na prestação de ajuda humanitária, até, inclusive, se oferecer para enviar observadores de eleição e mediadores. Também inclui construir uma presença diplomática forte e contínua na ONU a fim de progredir o debate sobre como conflitos podem ser prevenidos de uma forma mais eficaz através do desenvolvimento econômico.
Às vezes, esses tipos de compromissos (como a proposta brasileira da “Responsabilidade ao Proteger” em 2011, que foi uma das mais importantes iniciativas internacionais da Presidente Rousseff) não são custosos . Porém, de maneira geral, é necessário um conhecimento prático para poder desenvolver ideias influentes. Isso, por outro lado, requer, como dito antes, uma larga rede diplomática instalada em lugares estratégicos como Iraque, Afeganistão, Síria e Ucrânia.
Certamente não é uma coincidência que países como a Alemanha, que evitava se envolver em questões de segurança até o final de 1990, estão, cada vez mais, se comprometendo, por exemplo, com o envio de tropas ao Afeganistão e através de um intenso debate sobre mandar ou não armas ao curdos no norte do Iraque. A Alemanha também organiza a principal conferência anual mundial sobre os desafios da segurança global.
O desafio de Nova Déli, Brasília e Pequim é mostrar que são capazes de trazer contribuições tangíveis para lidar com os múltiplos conflitos armados. Se as potências emergentes não deixarem suas marcas na discussão global sobre segurança internacional, a reivindicação de uma ordem global mais democrática soará vazia.
Um maior engajamento não implica em atender cegamente aos pedidos dos EUA para se tornar um “stakeholder responsável”. Tal estratégia da política externa dos EUA é, com frequência, mera retórica pois eles assumem que atores “responsáveis” automaticamente se aliem aos EUA. A reação crítica dos EUA às iniciativas dos emergentes (como a tentativa do Brasil de chegar a um acordo nuclear no Teerã) deixou claro que os EUA não se sentem confortáveis com a liderança de outros. Como Dingding Chen apontou corretamente, “não está claro se os EUA realmente desejam que a China assuma mais responsabilidade internacional em questões de segurança, especialmente, quando se trata do envio de tropas para outros países.”
Analisando as ações de segurança internacional, Índia (o maior país em operações de paz da ONU) e Brasil (líder da operação de paz no Haiti) estão trazendo grandes contribuições. Ao mesmo tempo, a China se tornou o país mais ativo entres esses três. Por exemplo, Zhong Jianhia, representante especial da China para as relações africanas, tem tido um papel importante na mediação do conflito no Sudão. Foi a primeira vez que a China se engajou de maneira construtiva em uma crise internacional. Contudo, sua experiência em mediações continua limitada e a extensão e profundidade desse envolvimento no Sudão mostra que o tema ainda não é uma prioridade de Pequim. Além de tudo, o respeito à soberania continua no coração da política externa da China e Pequim quer evitar ser vista como um país interventor.
No entanto, a diplomacia de Pequim – ainda altamente prudente – terá que manter o ritmo dos seus crescentes interesses comerciais em toda a África e outras regiões do mundo. O mesmo vale para o Brasil e a Índia. Por exemplo, o peso da China como investidor no Sudão do Sul lhe dá forças para reduzir as tensões no país. “Este é um desafio para a China. Isto é algo novo para nós … É um novo capítulo para a estratégia internacional da China … a necessidade de expandir nossa projeção e proteger nossos interesses são ambos fatores decisivos para nossa presença ser mais assertiva no Sudão do Sul” diz um ex-diplomata chinês.
Por fim, na hora de lidar com desafios complexos de segurança internacional, fica evidente que a ordem global atual ainda é fundamentalmente unipolar. Portanto, é natural pedir ajuda aos EUA quando uma crise eclode. E, no entanto, há um consenso crescente de que, quando se trata de questões de segurança, não podemos mais resolver um desafio global contando apenas com a sabedoria de um único país. É nesta área, mais do que em qualquer outra, que os novos atores devem contribuir para encontrar soluções sustentáveis.
Leia também:
Marina colocaria a política externa brasileira de volta nos trilhos?
O Brasil está abandonando suas ambições globais?
Contra a retração (Valor Econômico)
Photo credit: Reuters/Stringer