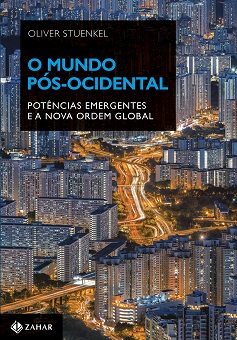Duas décadas e meia após a Guerra Fria, a ordem global ainda é fundamentalmente unipolar. Paradoxalmente, nem a liderança econômica nem a preponderância militar dos EUA são os fatores determinantes para essa configuração. A economia global é multipolar. Os gastos militares norte-americanos representam quase 50% do orçamento militar global, porém a limitação da força militar dos EUA ficou evidente durante as recentes guerras no Afeganistão e no Iraque. Contudo, a unipolaridade é ainda uma realidade porque o Ocidente – liderado pelos EUA – é capaz de definir a pauta em debates internacionais e de se projetar globalmente. Definir a agenda global é o resultado de conseguir desenvolver, legitimar e advogar um tema político específico – por exemplo, no âmbito econômico ou de segurança.
Consideremos três grandes desafios que dominam o atual debate nas relações internacionais: Ucrânia, ISIS e Ebola. De onde vêm as ideias que formam o modo que nós pensamos e agimos em relação a essas questões? O que Brasília, Nova Deli e Pequim estão dizendo sobre o papel de seus países na promoção de soluções tangíveis? Como tais visões afetam a opinião e política global? Percebe-se que os grandes países emergentes têm pouca visibilidade nesses debates.
A definição da agenda internacional é um processo árduo e incerto, resultado de uma combinação de fatores específicos. O primeiro fator é o capital intelectual para desenvolver iniciativas ou respostas capazes de ajudar a comunidade internacional a solucionar um problema global. O segundo fator é a disposição de um líder nacional a investir capital político em questões internacionais. O presidente ou primeiro-ministro pode não se envolver diretamente na promoção de ideias e estratégias internacionais, mas ele ou ela deve assegurar ao seu ministro de relações exteriores que não precisará recuar no primeiro sinal de resistência internacional. O terceiro fator é a credibilidade internacional. Não é somente uma questão de “hard power” – países pequenos como a Noruega conseguiram influenciar a pauta internacional em assuntos específicos – mas as propostas devem ter, necessariamente uma base de sustentação. Por exemplo, um modelo nacional bem sucedido na área do tema a ser abordado. Finalmente, o último fator é uma estrutura logística diplomática capaz de promover ações em escala global. Isso exige um aperfeiçoamento da comunicação global que demanda a presença de embaixadas no mundo inteiro para identificar aliados com antecedência, antevendo onde e quando alguma resistência irá emergir. Também requer influenciar a opinião pública global, implicando que políticos e diplomatas respondam perguntas da mídia, escrevam artigos de opinião convincentes, e apareçam nas TVs locais para promover a ideia. No plano interno, é necessário o envolvimento dos formadores de opinião, acadêmicos e jornalistas em seminários para explicar e defender as políticas em andamento. Vale lembrar que nada disso exige poder econômico ou militar.
Os governos de FHC e Lula buscaram, em diversas instâncias, definir pautas na agenda internacional. Durante os anos 1990, o Brasil começou a assumir uma liderança regional e a defender ativamente a governança democrática na região. Na presidência de Lula, o Brasil se empenhou em questões no Oriente Médio, em um esforço de mostrar que resolver os conflitos internacionais mais complexos não é apenas uma tarefa das potências tradicionais.
Por exemplo, Celso Amorim defendeu a Declaração de Teerã na mídia internacional, escrevendo artigos de opinião na New York Times (“Giving Diplomacy a Chance” e “Let’s Hear From the New Kids on the Block”). A Declaração de Teerã acabou fracassando em partes porque os EUA sentiu que o Brasil não os tinha consultado devidamente. Mesmo no Brasil, o ceticismo prevaleceu. Ainda assim, tal movimentação do Brasil foi um grande sinal de que as potências tradicionais perderam o monopólio de desenvolver resoluções para as grandes questões internacionais. Políticos da Índia e África do Sul expressam profunda admiração pela iniciativa do Brasil.
No seu primeiro mandato, a sucessora de Lula poderia ter dado continuidade a essa estratégia – aprendendo com os erros iniciais, propondo novas iniciativas, e convencendo outras potências emergentes como a Índia, Indonésia, Colômbia e Nigéria a seguir o exemplo. A proposta da Responsabilidade ao Proteger deu esperanças que Dilma Rousseff continuaria enfatizando a política internacional. Contudo, a presidente não concedeu poder suficiente ao seu Ministro de Relações Exteriores para montar uma estratégia global para promover a ideia. Comparado ao Celso Amorim, que constantemente visitava o Oriente Médio, o Itamaraty sob Dilma tem estado, em grande medida, ausente na região. O mesmo pode ser dito sobre a África.
O cancelamento da visita presidencial a Washington e a decisão de Dilma de organizar um encontro sobre a governança da Internet foram atos louváveis, mas ambos resultaram da dinâmica doméstica e não de uma genuína iniciativa de política externa. Durante o passar dos últimos quatro anos, o Brasil assumiu cada vez menos iniciativas quando comparado ao período entre 1995 e 2010. Essa ausência internacional permitiu que outros atores menores na região tomassem a liderança. Assim como aconteceu em 2012 quando a presidente argentina Kirchner insistiu em punir o Paraguai pelo medo de perder apoio político.
Dilma Rousseff pode até ter um interesse pessoal na política externa, mas ela se recusou a adotar uma estratégia proativa. O Ministério das Relações Exteriores tem sofrido cortes orçamentários drásticos. O clima entre os diplomatas chegou no seu ponto mais baixo deste o início dos anos 90. Na última semana, houve uma mobilização inédita dos terceiros secretários e dos oficiais de chancelaria, expressando sua insatisfação com o status quo.
As consequências desta postura passiva da Presidente foram negativas tanto para o interesse nacional brasileiro quanto para a capacidade da comunidade internacional de lidar com problemas globais. O próximo governo brasileiro deve, portanto, redescobrir o ativismo internacional. Isso não apenas significa contribuir na resolução de desafios – como a epidemia de Ebola na África Ocidental – mas também colocar novas ideias e temas na mesa durante as definições da pauta, principalmente em temas que são negligenciados pela comunidade internacional.
A reeleição de Dilma Rousseff não significa que o Brasil não será um ator mais relevante. Contudo, para isso, ela teria que decidir valorizar a política externa como seus predecessores.
Argumentar que uma política externa forte seja incompatível com o enfrentamento dos desafios internos é uma dupla falta de visão.
Em primeiro lugar, uma política externa brasileira ativa não envolve grande emprego de força militar no exterior, nem a assunção de obrigações relativas a segurança que possam ocasionar a entrada em conflitos custosos em regiões distantes – como acontece com os Estados Unidos. Manter uma abrangente rede diplomática e um papel ativo nas negociações e nos debates internacionais é um negócio de baixo custo. Além disso, é algo que pode ser conduzido pelo Ministro das Relações Exteriores – contanto que ele tenha a autonomia e a confiança presidencial necessárias para que possa expor suas opiniões – e, portanto, exige apenas uma quantidade limitada da atenção e do tempo de um presidente.
Em segundo lugar, e mais importante, uma política externa ativa não é incompatível com a priorização de problemas internos. Muito pelo contrário, é uma ferramenta essencial e necessária ao enfrentamento desses desafios. Levar adiante negociações comerciais multilaterais (que afetam a agricultura brasileira), promover a democracia no vizinho Paraguai (garantindo a segurança energética do Brasil) e a integração regional (tráfico de armas e de pessoas, segurança das fronteiras), são questões profundamente relacionadas a interesses nacionais que afetam a vida diária dos cidadãos. Relacionadas de forma mais indireta, mas não menos importante para os interesses nacionais do Brasil, estão questões como a promoção da paz no Afeganistão (terrorismo global), a paz no Oriente Médio (custo internacional da energia) e as negociações acerca da mudança climática.
Por que não deixar as potências estabelecidas cuidarem dos assuntos internacionais mais complexos? Tal argumento é perigoso por duas razões. Em primeiro lugar, durante as últimas décadas, os países ricos se mostraram incapazes de resolver os principais problemas internacionais por si só. Abdicar as responsabilidades, em tempos como esses, para deixar o futuro da humanidade nas mãos de um pequeno grupo de atores que carece legitimidade (e muitas vezes conhecimento) seria altamente imprudente. Os dramáticos fracassos no enfrentamento de questões como a mudança climática, a volatilidade financeira e as violações de direitos humanos ao longo das últimas décadas são claros indicadores de que novos atores precisam contribuir para a busca de soluções significativas.
Em segundo lugar, como mencionado acima, influenciar a opinião pública global reforça a legitimidade e prestígio de um país, permitindo-lhe moldar as regras e normas internacionais de acordo com os seus interesses. A definição da agenda, em suma, pode ser motivada por um compromisso com as normas internacionais mas também pelo próprio interesse nacional.
Usar a limitação econômica e militar do Brasil, ou apontar para problemas domésticos, como justificativa para reduzir a atuação internacional do país não é nada mais do que um pretexto vazio. No mundo atual, a influência não está baseada apenas no poder econômico e militar, mas também na capacidade de persuasão e na apresentação de ideias inovadoras. O próximo presidente do Brasil deve, portanto, utilizar os primeiros meses no cargo para articular uma maior inserção do Brasil na arena internacional e colocar a política externa de volta nos trilhos.
Leia também:
Contra a retração (Valor Econômico)
O Brasil está abandonando suas ambições globais?
O risco do recuo estratégico brasileiro
Recuo ou normalização na política externa brasileira? (Folha de São Paulo)
Photo credit: UN Photo/Marco Dormino