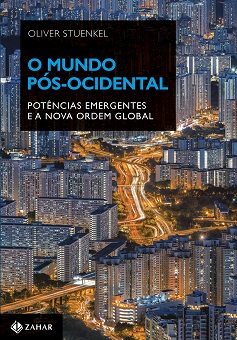Apesar de tom otimista adotado por Trump e Bolsonaro em Washington, analista afirma que presidente americano está pouco interessado em alianças duradouras e que Brasil tem comparativamente pouco a oferecer aos EUA.
O presidente Jair Bolsonaro foi recebido nesta terça-feira (19/03) pelo líder americano, Donald Trump, na Casa Branca. Ambos trocaram elogios e adotaram um tom otimista ao falar sobre as relações bilaterais futuras.
No entanto, enquanto o Brasil fez concessões durante a visita de Bolsonaro a Washington – como a liberação de vistos para americanos e o uso comercial da base militar de Alcântara, localizada no Maranhão –, os EUA ficaram no campo da promessa.
Trump afirmou que apoiará a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) se Brasília abrir mão de receber um tratamento especial na Organização Mundial do Comércio (OMC).
Para o analista Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), era esperado que a visita tivesse um caráter mais simbólico e não muita substância.
“Vemos esse desejo de aproximação forte aos EUA, mas temos que ver que Trump é um presidente que não tem grande interesse em estabelecer alianças fixas. Então, esse é um teste”, afirmou. “Sou cético quanto ao que Washington está disposto a dar ao Brasil, uma vez que o Brasil tem pouco a oferecer aos EUA.”
DW Brasil: Como o senhor avalia a visita de Bolsonaro aos EUA?
Oliver Stuenkel: Quando uma visita acontece tão cedo na Presidência, sabemos que o elemento simbólico é mais importante e que não pode haver tanta substância, porque uma visita presidencial normalmente é o ponto final de negociações que costumam demorar meses. Como não havia esse tempo, todos sabiam que não haveria grandes resultados que iriam transformar a relação entre Brasil e EUA. Mesmo assim, houve alguns resultados significativos.
Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro falou muito sobre o alinhamento do Brasil com os EUA. Agora, depois do primeiro encontro entre os presidentes, você vê isso na prática?
Os EUA querem que o Brasil atenda a demandas muito específicas. As duas principais são: ajudar na questão da Venezuela e limitar a influência chinesa na região. Quanto à primeira, o Brasil não tem muito o que fazer, pois não tem mais uma relação econômica forte com a Venezuela e não apoia uma intervenção militar. Em relação à China, em função da dependência brasileira dos chineses, Bolsonaro tem muito pouco espaço para ajudar nessa empreitada. A visita não muda a lógica dessa relação bilateral, que inclui a cooperação em algumas áreas, e dificilmente cria um alinhamento constante, porque é uma relação assimétrica: a relação é mais importante para o Brasil do que para os EUA. Um exemplo é que a visita domina as notícias no Brasil, mas não nos jornais americanos.
Na viagem, Bolsonaro disse apoiar o muro de Trump, liberou os vistos para os americanos e o uso da base de Alcântara pelos EUA, mesmo sem a garantia de obter da Casa Branca algo em troca.
A decisão de liberar vistos para os americanos é pouco usual. É uma ruptura com a tradição diplomática, e muitos observadores têm manifestado preocupação com a retórica pró-EUA e a maneira como essa aproximação pode afetar os interesses nacionais brasileiros. Diante das dificuldades que Bolsonaro enfrentará na política doméstica – como a reforma da Previdência –, a área externa é uma das poucas em que ele consegue avançar sem precisar da aprovação do Congresso para muitas coisas ou em que a forma pouco ortodoxa de ele lidar com os outros poderes não atrapalha. É preciso explicar melhor como essa aproximação, inédita nas últimas décadas, ajuda o país. Isso será um ponto de muita controvérsia ao longo dos próximos meses e anos, sobretudo em função da dúvida se Bolsonaro quer se aproximar de Trump ou se aproximar dos EUA. Isso porque existe uma chance de Trump perder as próximas eleições. Assim, a grande dúvida é se Bolsonaro, neste cenário, manteria essa aproximação.
Bolsonaro e seu ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falam muito em resgatar o nacionalismo brasileiro. Esta viagem aos EUA mostrou que as ações do atual governo brasileiro vão realmente nessa direção?
Essa questão de resgatar o nacionalismo brasileiro é uma ferramenta retórica: não está claro como isso se traduz em propostas concretas de política externa. A primeira manifestação desse desejo é de aproximação forte dos EUA, mas temos que ver que Trump é um presidente que não tem grande interesse em estabelecer alianças fixas. Sou cético quanto ao que Washington está disposto a dar ao Brasil, uma vez que o Brasil tem pouco a oferecer aos EUA.
Para apoiar o Brasil na adesão à OCDE, os EUA pressionam para que Brasília não usufrua mais de um tratamento especial na Organização Mundial do Comércio (OMC). Até que ponto o Brasil pode ceder para obter seus objetivos?
Depende muito da determinação e do interesse brasileiro em avançar com a sua adesão à OCDE. A princípio, parece-me pouco provável que o Brasil abra mão desse privilégio [na OMC]. Porém, os EUA devem estar pedindo isso não só ao Brasil, mas também a outros países que têm o mesmo status. Então, se Brasília perceber que há uma tendência, aí poderia aceitar essa troca. Mas essa negociação só começa agora, e isso deverá ser discutido ao longo dos próximos meses e anos. Vale lembrar que a adesão à OCDE é um processo longuíssimo e que ela provavelmente não vai acontecer durante o governo Bolsonaro.
Bolsonaro pediu uma ajuda aos EUA para “libertar o povo venezuelano” e Trump disse que “todas as opções para a Venezuela estão sobre a mesa”, inclusive a militar. A posição histórica do Brasil sempre foi a de mediador, e ela parece não estar sendo adotada no governo Bolsonaro.
Acredito que isso é, acima de tudo, retórica. Eu não vejo como o Brasil pode ter uma atuação incisiva na Venezuela. Parece-me bastante claro que o Brasil não é um ator-chave na crise venezuelana, e sim países como EUA, China, Rússia e Cuba. Portanto, eu não vejo coisas concretas e relevantes que o Brasil possa fazer a respeito neste momento, e essa observação se aplica a toda América do Sul. Essa é uma crise que envolve grandes potências e, em função disso, a região irá reagir a tendências mais amplas.
Pode ser que Maduro ainda fique no governo por um bom tempo. A cada dia que passa, 5 mil pessoas deixam o país, e isso, a princípio, é positivo para ele, pois esvazia as manifestações e reduz a resistência. Então, o cenário mais provável é uma espécie de ‘Robert Mugabe do Zimbábue’: um Estado falido, talvez com poucos elementos da República Democrática do Congo, com milícias operando no país e gerando uma espécie de incerteza sobre quem governa em qual região e, em algum momento, pode haver certamente um colapso do regime. Mas isso pode demorar e depende também da determinação dos EUA pressionarem o regime.
Como o Brasil vai conseguir lidar com as pressões americanas e chinesas e, até mesmo, com a guerra comercial entre Washington e Pequim?
O Brasil não tem como influenciar essa questão. Brasília pode perder os privilégios que temporariamente obteve quando a guerra comercial alcançou seu auge, porque o Brasil conseguiu substituir a soja americana no mercado chinês. Mas, com um novo acordo [entre Washington e Pequim], isso pode acabar, e o Brasil terá que se adequar ao “novo normal”, que é um mercado internacional muito menos previsível, onde regras e normas são constantemente alteradas por questões políticas. Então, a princípio, essa tensão maior é uma má notícia para o Brasil.
Recentemente, o chanceler Ernesto Araújo disse aos novos diplomatas que o Brasil, nos últimos anos, fez uma opção equivocada ao querer se integrar à América Latina, à Europa e aos Brics em vez de aprofundar as relações com os EUA.
O chanceler erra ao considerar a maior aproximação do Brasil com a América Latina e Brics como resultado de uma escolha ideológica. É natural que um país que ocupa 50% do território e que representa 50% da população e do Produto Interno Bruto (PIB) da América do Sul queira ganhar uma presença maior na região. Isso é natural, pois é por meio da relação econômica mais forte que conseguimos influenciar também eventos políticos na região. Então, a liderança regional brasileira é um objetivo importante da política externa – por exemplo, para evitar crises como a da Venezuela. Nós vemos que o Brasil não conseguiu exercer essa liderança, mas ganhá-la novamente e exercer um papel de liderança no futuro deveria ser um dos objetivos.
Em relação aos Brics, o Brasil está se adaptando a uma nova distribuição de poder no mundo. O grupo é uma ferramenta importante não tanto para o Brasil se alinhar com esses países, mas acima de tudo para lidar com eles e defender seus interesses. Brasília teve e continuará tendo benefícios com o Brics. Quanto à Europa, ela nunca deixará de ter uma grande relevância no Brasil. Acredito que um afastamento não seja de interesse do país neste momento.
Eu confesso que esse comentário [de Araújo] não me preocupa tanto, porque, apesar de ver uma retórica radical, acredito que grupos mais moderados – tanto os generais como também os economistas da equipe do [Ministro da Economia] Paulo Guedes – vão vetar passos que possam levar de fato ao afastamento do Brasil tanto dos Brics, quanto da Europa e da América Latina.