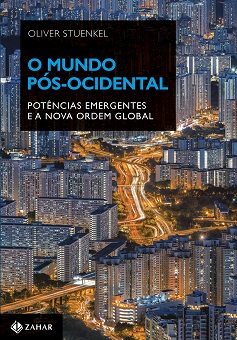Decisão de não punir Pazuello fortalece dúvidas sobre qual seria a posição dos militares caso Bolsonaro não aceite o resultado das urnas
OLIVER STUENKEL
07 JUN 2021 – 15:57 CEST
Uma manchete da revista Americas Quarterly disparou uma sirene de incêndio entre os observadores internacionais. Nela, o editor-chefe Brian Winter vai direto ao ponto e afirma que “o presidente Bolsonaro prepara seu próprio 6 de janeiro”.
A comparação de Brian é com a invasão do Capitólio por milhares de manifestantes, vários deles armados, em 6 de janeiro de 2020. O episódio talvez tenha sido o mais traumático na história da democracia americana. De repente, um país que sempre se enxergou como um farol da democracia se tornou uma verdadeira inspiração para líderes dispostos a violar o conceito mais sagrado desse sistema: a transferência ordenada e pacífica de poder. A tentativa trumpista de inviabilizar a ratificação da vitória de Joe Biden deixou cinco mortos e mais de cem feridos. Eventos assim são como uma bomba atômica: seus piores efeitos não são os imediatos, mas aqueles legados ao futuro.
Daí o temor quando um dos comentaristas de assuntos latino-americanos mais influentes nos EUA tasca um título como este para explicar a queda do ministro da Defesa Fernando Azevedo e dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, em março. Para Winter, o objetivo de Bolsonaro é reunir a maior quantidade possível de fardados e armados ao seu lado, partindo para um plano B golpista caso não recupere sua popularidade até as próximas eleições.
Winter publicou seu artigo um dia após a queda do time da Defesa. Seis dias depois, a mesma Americas Quarterly trouxe uma resposta do embaixador brasileiro em Washington, Nestor Forster, criticando a “analogia forçada com a política americana” e afirmando que as instituições brasileiras não apresentavam “o menor sinal de ruptura”. Forster rebateu as preocupações de Winter com o compromisso democrático dos militares, afirmando que as Forças Armadas eram “estritamente profissionais e observadoras de seu papel constitucional’’. As palavras do embaixador pareciam ecoar uma narrativa comum logo no início do mandato de Bolsonaro. Nessa época, muitos alegavam que a retórica autoritária do presidente não colocaria a democracia em risco, pois as alas militares e neoliberais do próprio bolsonarismo serviriam de contrapeso técnico e institucional, moderando qualquer excesso do incumbente.
No exterior, porém, essa narrativa não cola faz tempo. Tanto que, em conversas em off, diplomatas estrangeiros em Brasília não demonstraram nenhuma surpresa diante da decisão do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de não punir Pazuello por sua participação no ato bolsonarista do dia 23 de maio. General da ativa, Pazuello saiu às ruas do Rio de Janeiro sem máscara, discursando em carros de som ao lado de Bolsonaro e ignorando completamente o regulamento disciplinar da instituição. Divulgada no dia 3 de junho, a martelada do comandante do Exército cede à pressão do presidente, reforçando uma percepção cada vez mais dominante de que as Forças Armadas não teriam nem capacidade nem interesse em conter as ambições autoritárias de Bolsonaro ou de oferecer resistência a uma possível ruptura democrática. Segundo um artigo do Brazilian Report —publicação lida por muitos observadores internacionais que lidam com o Brasil—, “Bolsonaro convenceu os militares a ignorarem seus próprios princípios: hierarquia e disciplina”. Para o jornalista Gustavo Ribeiro, o presidente não estava brincando quando se referiu a eles como “minhas Forças Armadas”.
Com uma política cada vez mais militarizada e militares cada vez mais políticos, o Brasil se torna um ator imprevisível e instável, sendo tratado com crescente reserva até por parceiros tradicionais. Não surpreendentemente, os fardados são o tema da vez para os analistas brasileiros, que vêm recebendo perguntas constantes de correspondentes e diplomatas estrangeiros sobre o posicionamento e a influência de diferentes generais. Hoje, nenhum relatório sobre o cenário brasileiro pode ser considerado completo sem uma avaliação pormenorizada do clima no Exército. Até 2018, a maioria dos relatórios desse tipo podiam ignorar por completo o tópico Forças Armadas, tamanha era a sensação de estabilidade.
O interesse pelos militares daqui deve-se à percepção de que a democracia americana só sobreviveu ao 6 de janeiro graças a um claro compromisso das Forças Armadas de lá com os valores constitucionais. Diante da recusa de Trump em reconhecer o resultado das urnas, o general Mark Milley —oficial militar de mais elevada patente dos EUA— fez um pronunciamento histórico, alertando que o juramento feito por cada um de seus homens era à Constituição, e não a um ditador, e que os soldados defenderiam aquele documento sagrado independe do preço que tivessem de pagar.
Mesmo com o rápido naufrágio do golpe trumpista, o episódio representou uma bela rusga em uma das democracias mais vigorosas do continente, deixando sequelas que devem perdurar anos a fio. Até hoje, a maioria dos eleitores de Trump acredita que as eleições de 2020 foram roubadas, e as expectativas de que o fracasso eleitoral motivasse o Partido Republicano a repensar o radicalismo e se reaproximar do campo democrático já parecem fracassadas. Até agora, o partido só dobrou a aposta, radicalizando cada vez mais suas posições, sufocando qualquer voz minimamente moderada e representando uma grave ameaça ao sistema democrático dos EUA.
Se uma tentativa de golpe cortada na raiz por fardados que explicitam sua posição pró-democracia já causará danos de longa duração, imagine o que aconteceria com um Exército titubeante. A capitulação das Forças Armadas brasileiras no caso Pazuello acende uma luz vermelha para quem espera que os fardados daqui ajam como seus colegas americanos caso Bolsonaro decida estrelar um remake brasileiro da invasão do Capitólio.
Episódios como esse conferem uma nova demão de lama à imagem do país no exterior. Como se não bastasse o negacionismo climático, a postura anticientífica e o fato de termos uma das piores estratégias em todo o continente para conter a pandemia, o Brasil passa a ser visto como uma nação na iminência de uma possível ruptura democrática. No cenário interno, ainda é cedo para prever a fundura do poço. Já no cenário internacional, cenas como a recente inauguração de um cabo de fibra óptica entre a cidade de Sines, em Portugal, e Fortaleza dão uma boa ideia do quanto o nome do país se tornou tóxico. Durante a cerimônia, os representantes europeus conseguiram a proeza de discursar sem mencionar o Brasil. Era com se Fortaleza tivesse virado a Jangada de pedra do escritor lusitano José Saramago, e vagasse por aí descolada da pátria. Tudo para não dizer que, sim, estavam fazendo uma parceria com o Brasil.
Oliver Stuenkel é professor adjunto de Relações Internacionais na FGV em São Paulo. É o autor de O Mundo Pós-Ocidental (Zahar) e BRICS e o Futuro da Ordem Global (Paz e Terra). Twitter: @oliverstuenkel