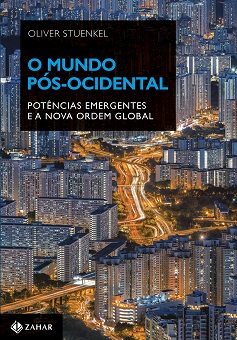Diferentemente de 1964, possível golpe em 2022 não teria apoio dos EUA, mas, ainda assim, a comunidade internacional teria meios limitados para revertê-lo
OLIVER STUENKEL
09 AGO 2021 – 14:48 CEST
31 de outubro de 2022: Depois de uma campanha tensa, marcada pela recusa do presidente em debater com os demais candidatos, Jair Bolsonaro anuncia em live que não aceita os resultados das “eleições fraudulentas” que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva com 57% dos votos válidos no segundo turno contra 43% dele próprio. Ressalta que seu “amor pela pátria e respeito pela Constituição” o obrigam a continuar no cargo para assegurar a organização de “eleições limpas” em data a ser anunciada posteriormente. Durante a live, apoiadores armados ocupam a Esplanada dos Ministérios em Brasília. Diferentemente das Forças Armadas estadunidenses, que se recusaram a apoiar o presidente Trump em sua tentativa de ignorar os resultados das urnas em 2020, os generais brasileiros anunciam, no dia seguinte, apoio ao presidente em seu compromisso de organizar “eleições que reflitam adequadamente o desejo do povo brasileiro”. Não se trata de uma ruptura democrática, e muito menos de um golpe de Estado, asseguram vários ministros. Pelo contrário: Bolsonaro “agiu no espírito democrático para conter os golpistas que fraudaram o processo eleitoral.”
No cenário hipotético descrito acima, qual seria a reação da comunidade internacional? À primeira vista, o ambiente internacional hoje é bem mais hostil a movimentos golpistas do que era durante a Guerra Fria, quando considerações geopolíticas e a preocupação norte-americana com o avanço do comunismo tornaram secundário o interesse de Washington em promover e defender a democracia.
Em comparação com o que sucedeu em 1964, quando o governo dos Estados Unidos envolveu-se na preparação do golpe no Brasil e fortaleceu laços com o regime militar brasileiro, uma ruptura democrática em 2022 não ajudaria a aproximar o governo Bolsonaro de Washington. Em 64, vale lembrar, o Brasil também sofreu condenações e isolamento diplomático. A Venezuela rompeu relações com o país, e o México retirou seu embaixador de Brasília. Além disso, o Brasil teve que reduzir sua visibilidade em órgãos internacionais como a ONU. Os EUA, porém, tornaram o governo Castelo Branco o quarto maior receptor de ajuda americana ao desenvolvimento, ajudando a mitigar o isolamento brasileiro — pelo menos até a promulgação do AI-5 em 1968, que levou mesmo Washington a condenar e suspender ajuda financeira ao Brasil. Em 2022, a maioria dos países da Europa e das Américas emitiria notas de repúdio e convidaria os embaixadores brasileiros a prestar esclarecimento e, em momento posterior, possivelmente chamaria de volta para consulta seus respectivos embaixadores em Brasília, o que representa, na linguagem diplomática, sinal de insatisfação nas relações bilaterais.
No entanto, seis motivos sugerem que a reação da comunidade internacional a uma ruptura democrática no Brasil poderia ser mais branda do que esperam muitos opositores de Bolsonaro. Na verdade, atores externos teriam meios limitados de conter a consolidação de um sistema autoritário por parte do atual mandatário brasileiro.
Primeiro: a ameaça do isolamento diplomático, resposta inicial mais comum a rupturas democráticas, dificilmente assustaria Jair Bolsonaro. Afinal, ele já está em situação de isolamento inédito. No Ocidente, sua imagem se tornou irrecuperável, mesmo antes de ter posto em prática qualquer proposta autoritária. Na Europa e nos EUA, particularmente, o mandatário brasileiro tornou-se tão tóxico aos olhos da opinião pública que dificilmente será recebido para uma visita bilateral até o fim de seu mandato. Mesmo se alguns países europeus e os EUA retirassem seus embaixadores de Brasília permanentemente, em resposta a um golpe — como o México fez em 1964 –, isso não representaria um problema grave para um presidente cuja base de apoio pouco se importa com o isolamento atual do país no mundo.
Segundo: rupturas democráticas costumam ser justificadas como medidas emergenciais e temporárias para lidar com uma ameaça específica, o que geralmente ajuda a mitigar o impacto negativo nas relações exteriores. Seja no caso do golpe no Brasil em 1964, seja no Peru de Fujimori de 1992, a retórica inicial sempre sugere que se trata apenas de uma breve fase de transição até a volta ao regime democrático. O governo Bolsonaro poderia argumentar, para apaziguar interlocutores internacionais, que o país atravessa simplesmente um período até a organização de eleições supostamente limpas — narrativa útil para parceiros dispostos a fazer vista grossa por receio de colocar em risco relações comerciais.
Terceiro: o isolamento diplomático brasileiro seria particularmente acentuado no Ocidente, mas não necessariamente se estenderia ao resto do mundo. É pouco provável que o Brasil se tornasse alvo de críticas por parte dos BRICS, os quais frequentemente enfatizam o respeito pela soberania mútua como pilar de sua cooperação. Afinal, nem mesmo atos abertamente autoritários — como a prisão de Alexei Navalny, líder da oposição russa, e a repressão do governo chinês em Hong Kong — provocaram a condenação dos demais países do bloco.
Quarto: até mesmo na América Latina, rupturas democráticas, ao longo das últimas décadas, não levaram ao isolamento diplomático imediato. A Venezuela, por exemplo, conseguiu manter laços diplomáticos por anos, apesar de ter deixado de ser uma democracia há muito tempo. Do mesmo modo, rupturas democráticas mais recentes, como na Nicarágua e em Honduras, levaram líderes com ambições autoritárias à crença de que não teriam muito a temer por parte da comunidade internacional.
Quinto: até governos genuinamente preocupados com a erosão da democracia, dispostos a estabelecer um precedente contra aventuras autoritárias, terão de reconhecer que punir o Brasil — por meio de sanções econômicas, por exemplo — geraria resistência interna por grupos de interesse dependentes da relação econômica com o Brasil. Ao mesmo tempo, uma ruptura completa poderia comprometer outro objetivo fundamental de muitos países: incentivar o Brasil a se tornar um ator mais ativo no combate ao desmatamento, questão cada vez mais relevante na opinião pública internacional.
Por fim, Bolsonaro detém uma carta na manga, mesmo que uma ruptura democrática no Brasil levasse a condenações explícitas por parte do governo de Joe Biden. Se for habilidoso, o presidente brasileiro poderá utilizá-la para evitar um colapso na relação com Washington, mesmo depois de um golpe de Estado: o Brasil é visto como ator crucial na tentativa da Casa Branca de limitar a influência chinesa nas Américas, questão cada vez mais determinante para a atuação geopolítica dos EUA. Afinal, estrategistas americanos indagariam: de que serve isolar o governo brasileiro, mesmo autoritário, se isso pode vir a contribuir ainda mais para consolidar a influência chinesa no país sul-americano?
Portanto, apesar de o cenário internacional parecer agora muito distinto daquele de 1964 — afinal, o número de nações democráticas no mundo é muito superior em 2021, e o regime democrático parece ter se consagrado como sistema político dominante –, seria um grave equívoco superestimar os meios que a comunidade internacional de hoje detém para conter os impulsos autoritários do atual presidente brasileiro. Se Bolsonaro fracassar na tentativa de um golpe, não será por pressão de atores externos, mas, sobretudo, pela resiliência dos defensores internos do Estado Democrático de Direito.
Oliver Stuenkel é professor adjunto de Relações Internacionais na FGV em São Paulo. É o autor de O Mundo Pós-Ocidental (Zahar) e BRICS e o Futuro da Ordem Global (Paz e Terra). Twitter: @oliverstuenkel