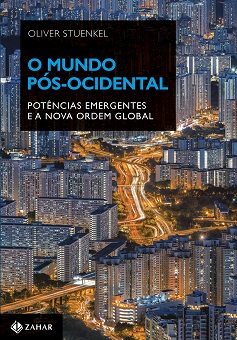questões da democracia
LIÇÃO DE GOLPISMO
Um ano após a invasão ao Capitólio, Trump se fortalece e ensina a Bolsonaro que a radicalização às vezes compensa
Oliver Stuenkel
11 jan 2022_10h02
https://piaui.folha.uol.com.br/licao-de-golpismo/
A invasão ao Capitólio foi a gota d’água. Depois que trumpistas fanáticos atacaram o Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021, analistas respeitáveis de esquerda e de direita concordaram que o então presidente havia ido longe demais. “Ele ferrou os próprios apoiadores, ferrou o país e agora ferrou a si mesmo”, declarou um ex-membro da campanha que o elegeu. Tão patéticas quanto temerárias, as cenas incluíam um cosplay de viking e camisetas no estilo “eu fui”, chocando uma sociedade que parecia imune ao choque e entrando para a história como símbolo da pior crise política dos Estados Unidos desde a Guerra Civil, no século XIX. “Lealdade a Trump desaba”, mancheteou o Politico, site americano especializado na cobertura política. “Trump tem sangue nas mãos”, disse à imprensa um ex-assessor da Casa Branca. Naquele dia, o golpe fracassado parecia ser uma ruptura tão definitiva que a CNN previu que a insurreição selaria o fim da aventura política de Trump.
Nos dias que se seguiram à invasão, o então presidente em exercício de fato parecia mais propenso a compor o elenco de um reality show do que a retornar à arena política. Afinal, suas atitudes puseram em risco não apenas a longevidade da democracia americana, mas o pescoço de vários republicanos – de modo literal, em alguns casos. Na lista negra dos manifestantes trumpistas estava até o vice-presidente Mike Pence, homenageado com uma forca em frente ao Capitólio. Segundo os apoiadores do presidente, Pence não teria se esforçado o suficiente para bloquear a transição de poder para Joe Biden.
Pedidos e alertas para que se afastasse do cargo atingiam Trump por todos os lados. Mesmo lideranças do Partido Republicano, como a senadora pelo Alasca Lisa Murkowski, clamaram publicamente pela renúncia. Mitch McConnell – até então poderoso líder da maioria republicana no Senado e aliado-chave do presidente – ressaltou que a decisão de não honrar o resultado eleitoral “prejudicaria nossa República para sempre”. Até o senador pelo Arkansas Tom Cotton, conhecido por seu apoio intransigente ao governo, disse que estava na hora de Trump “parar de enganar o povo americano”. No afã de juntar os cacos do pós-Capitólio, houve até quem previsse que a deputada da ala moderada Liz Chaney seria a figura responsável por liderar a restauração do “Grande Velho Partido”, lembrando tanto à sociedade quanto aos próprios republicanos que as fileiras do partido já contaram com gigantes da democracia como Abraham Lincoln.
Ledo engano. Um ano após os confrontos que causaram cinco mortes diretas, além de suicídios posteriores que podem ter sido motivados pelo episódio, Trump está mais forte do que nunca. Olhando em retrospecto, o fato de ele não ter aceitado o resultado das urnas e, em vez disso, ter mobilizado seus seguidores mais extremistas foi crucial para consolidar a narrativa de que as eleições de 2020 teriam sido fraudadas. Trata-se de um discurso furado, mas um elemento fundamental para entender os nossos tempos é perceber que palavras vazias têm um peso estrondoso. Até hoje, três quartos do eleitorado republicano acreditam que Biden ocupa a Casa Branca de forma ilegítima.
Enquanto a vasta maioria dos presidentes americanos se retira da vida pública quando amarga uma derrota na tentativa de reeleição, Trump não só continua no controle do Partido Republicano como vem causando a aposentadoria de seus opositores internos. Antes vistas como estrelas em ascensão, vozes mais centristas como os deputados Anthony Gonzalez, Liz Cheney e Adam Kinzinger hoje estão marginalizadas ou já sinalizaram que não pretendem se candidatar novamente.
Nem a publicação de relatos detalhados sobre o papel decisivo de Trump na orquestração dos ataques parecem afetar a imagem do partido, que deve retomar o controle do Congresso e do Senado nos midterms de novembro. Uma vitória dessa magnitude após um golpe que todos consideravam fatal pode servir de tapete vermelho para um retorno triunfal à Casa Branca. Mesmo que o próprio Trump não queira se candidatar em 2024, não restam dúvidas de que o próximo presidenciável republicano será um trumpista convicto, a exemplo do atual governador da Flórida, Ron DeSantis.
Motivo de chacota e vergonha há apenas doze meses, o trumpismo alcançou uma redenção tão rápida e vigorosa que analistas do mundo inteiro assistem a esse processo atentamente. Ainda assim, mesmo o acadêmico mais obstinado não estuda os passos de Trump com tanto afinco quanto a família Bolsonaro. Admiradores de Trump muito antes de virar modinha, Jair e seus filhos notam com esperança como saiu barato para o ex-presidente americano não ter condenado a invasão ao Congresso, tampouco assumido sua parcela de culpa pelo episódio.
No calor do momento, Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que, se os invasores fossem mais organizados, teriam tomado o Capitólio com uma pauta de demandas previamente estabelecida. Esse tipo de conclusão não é fruto do olhar de um mero observador, mas daquela espécie de torcedor que quer expulsar o técnico e assumir o time durante uma Copa do Mundo.
Visto como uma cegueira estratégica até pouco tempo atrás, o fato de os Bolsonaro terem prejudicado a relação do Brasil com os Estados Unidos e se negado a reconhecer a vitória de Biden começa a soar estranhamente racional. Ao contrário de líderes com tendências autoritárias como o ex-premiê israelense Benjamin Netanyahu, o presidente brasileiro se manteve fiel a Trump mesmo quando o republicano parecia descer pelo ralo. O motivo certamente não é uma moral elevada, mas o fato de que as ações de Trump no pós-Capitólio seriam um verdadeiro estudo de caso para que os Bolsonaro soubessem até onde poderiam ir – isto é, até que ponto poderiam esgarçar o tecido democrático impunemente.
Com efeito, as lições tiradas do experimento trumpista parecem ter servido como um grande guia para a família Bolsonaro no último ano. A crescente obsessão do presidente brasileiro por cooptar as Forças Armadas, por exemplo, pode partir da constatação de que a posição dos fardados americanos foi decisiva para o fracasso do golpe. A insistência em posicionamentos anticientíficos sobre a pandemia, mesmo em assuntos que unem o polarizado eleitor brasileiro, como é o caso da vacinação infantil, pode ser fruto da constatação de que ser consistente em seus erros gerou lucros inesperados para Trump.
Acima de tudo, o caso americano cria incentivos perigosos para que Bolsonaro tente reproduzir no Brasil os eventos do dia 6 de janeiro de 2021. Afinal, há poucos indícios de que Trump terá de pagar pelo episódio, e milhares de eleitores republicanos continuam achando que os invasores do Congresso não eram vândalos buscando impedir uma transição legítima de poder, e sim eleitores injustiçados por um sistema corrupto. A despeito do fracasso e do choque inicial, os ataques ao Legislativo fortaleceram a narrativa trumpista. Isso atiça as esperanças bolsonaristas de que, caso sofram uma derrota nas urnas e arrisquem um golpe, o pior que pode acontecer é saírem mais fortes e amargarem alguns anos no banco de reservas.
Ainda que Bolsonaro não encontre candidatos a viking para invadir o Congresso brasileiro, a ideia de que ele possa aceitar uma derrota eleitoral e garantir a transição pacífica de poder está basicamente descartada. Abraçar a lenda de uma “grande fraude” eleitoral é crucial tanto para evitar a imagem de fracassado quanto para manter sua hegemonia no campo da direita.
Por incrível que pareça, a grande lição do renascimento trumpista é de que o caminho mais seguro para um aspirante a autocrata é dobrar a aposta e continuar se radicalizando cada vez mais. Isso porque, uma vez atiçada, a base extremista raramente perdoa sinais de moderação por parte do líder. O próprio Trump cometeu esse deslize recentemente, quando revelou ter se vacinado contra a Covid-19 e recomendou que seus apoiadores fizessem o mesmo. Levou uma sova inédita de sua base. Bolsonaro, que teve uma experiência semelhante quando decidiu recuar da sua retórica golpista no Sete de Setembro, seguramente terá tirado suas próprias conclusões do episódio.